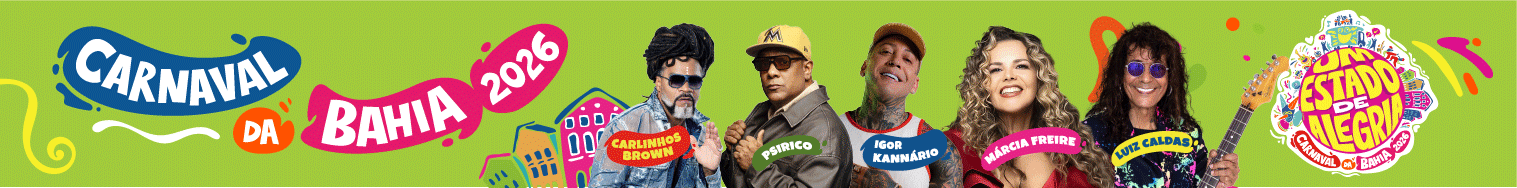A questão da habitação no Brasil perpassa temas que não dizem respeito apenas ao acesso à habitação, mas a processos mais complexos, relacionados à própria forma como as cidades e o País se constituíram historicamente em suas heranças coloniais e, posteriormente, na busca pelo “progresso” e seu desenvolvimento econômico, todos capítulos da nossa história que culminaram na materialização de desigualdades no espaço.
Na canção de Lazzo Matumbi 14 de Maio, encontramos versos que se referem ao dia seguinte da abolição da escravatura e a condição de um ex-escravizado frente a um contexto que não lhe garantia nada, além de, ironicamente, a liberdade: “No dia 14 de maio eu saí por aí / Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir / Levando a senzala na alma, eu subi a favela / Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci”.
A formação histórica das favelas não está apenas relacionada à abolição da escravatura, mas os versos de Matumbi nos aproximam de questões fundamentais para compreender os paradigmas do acesso à moradia no Brasil.
Nesses versos, narrados a partir do cotidiano, é possível traçar paralelos com o que a arquiteta e urbanista Erminia Maricato denomina como “Nó da Terra”. Este nó seria referente à privação do acesso à terra pela população ex-escravizada, que também foi privada, de diversas maneiras violentas, de possibilidades de ascensão econômica e social. A terra foi tratada como mercadoria, espoliada e negada a negros, povos originários e população mais pobre. A má distribuição e a privação de acesso a determinados grupos sociais seguem sendo um dos pontos de partida de nossas desigualdades urbanas.
O processo histórico de negação da terra se conecta ao posterior desenvolvimento econômico tomado como modelo para industrialização e urbanização do País. Algo que o sociólogo Francisco de Oliveira destacou ao falar sobre a exclusão da casa como componente do custo de reprodução da força de trabalho, o que, segundo ele, culminou em um rebaixamento geral dos salários do trabalhador. Esse mecanismo é parte do que Lúcio Kowarick denominou “espoliação urbana”: a retirada sistemática, por meio da precariedade de serviços e infraestruturas, de parte da renda dos trabalhadores que vivem nas periferias.
Assim, a solução encontrada para acessar a terra e a moradia foi a autoconstrução, ou seja, famílias passaram a erguer as próprias casas nos terrenos mais baratos ou desvalorizados pelo mercado. Essa lógica consolidou a desigualdade urbana como parte estrutural do desenvolvimento brasileiro, transformando a cidade em expressão concreta das contradições sociais. A autoconstrução consolidou-se como prática possível diante da ausência de políticas habitacionais efetivas, dando origem a grande parte das favelas e periferias que marcam a paisagem das cidades brasileiras.
As favelas são lugares de moradia popular, territórios periféricos, marcados pela autoconstrução, que abrigam trabalhadores e trabalhadoras, e que comumente estão localizados nas áreas “menos nobres” da cidade. São territórios marcados por adversidades, decorrentes da ausência de serviços públicos, de melhores condições das construções e de seu entorno, onde há, por vezes, falta de segurança na posse do terreno, riscos ocasionados pela ocupação de áreas sensíveis ambientalmente, morosidade no fornecimento regular de água, esgoto e eletricidade, entre outras questões.
Diante dessas condições, a compreensão da “solução” para o problema habitacional pelo Estado, historicamente, atrelou-se a ímpetos remocionistas e/ou de construção de novas moradias, ao negar as favelas e comunidades urbanas enquanto parte constituinte da cidade.
A partir dos anos 1960, consolidam-se políticas e programas públicos nesse sentido. Como exemplo, há a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1964, que tinha como objetivo financiar a produção em larga escala de moradias populares. Embora criado com o objetivo de promoção habitacional, o BNH acabou por privilegiar o mercado imobiliário voltado à classe média assalariada, e não foi amplamente utilizado para beneficiar o acesso à moradia pelas classes populares. Atualmente, outro programa de produção de habitação em larga escala, voltado, teoricamente, para as classes populares, é o Minha Casa Minha Vida (MCMV), criado em 2009, que funciona principalmente como um programa de acesso ao financiamento habitacional por meio do crédito imobiliário.
Essas políticas facilitam o acesso à habitação, mas não para os grupos mais necessitados. A questão da habitação e do déficit a ela atrelado não será resolvida com programas de crédito habitacional, que privilegiam camadas da população que já possuem as mínimas condições de pagar parcelas de financiamento. O paradigmático texto de Gabriel Bolaffi sobre o “falso problema da habitação”, em 1979, já expunha a distância entre a realidade e o que se diz dela, ou melhor: quais são os reais problemas quando falamos de habitação no Brasil? O que Bolaffi propõe é um esforço para recolocar o problema nos seus verdadeiros termos, ou seja, não basta desmistificá-los, é necessário vontade e coragem para solucionar contradições.
Parte desse esforço está no reconhecimento das favelas e comunidades em suas complexidades e diversidades. Esse reconhecimento é fruto da organização da luta não apenas pela moradia ou cidade, mas pelo direito ao território, que é muito mais do que garantia de condições básicas para sobrevivência. Com o grande esforço de movimentos sociais pelo direito à moradia e à cidade, desde a redemocratização, a questão da habitação tem tomado outros caminhos e o reconhecimento do direito à moradia em sua forma ampliada, não só enquanto teto, mas como direito a todas as outras esferas da vida na cidade. Há conquistas a serem destacadas, como o amplo movimento pela Reforma Urbana, que culminou em parágrafos em nossa Constituição Federal, e também leis, como o Estatuto da Cidade (2001).
Tal reconhecimento abre possibilidades para outras formas de enfrentar a questão habitacional, não apenas com a construção de novas moradias, mas com a qualificação urbana e habitacional do que já está construído. É preciso desenvolver programas públicos e políticas de Estado que deem conta das diversas formas de morar e construir, e que respeitem as diversidades culturais e geográficas de um território nacional amplo como o nosso. Algumas prefeituras já contam com políticas de qualificação urbana e habitacional, a exemplo das iniciativas da prefeitura de Diadema, em São Paulo, com o programa de melhorias habitacionais Tá+Bonito.
O trabalho construído por organizações da sociedade civil, como as intituladas “assessorias técnicas”, vinculadas mais comumente à sigla ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social), também tem refletido e pode contribuir para a constituição de soluções inovadoras aos problemas reais da habitação: políticas de requalificação e reforma de edifícios ociosos em centros urbanos; planos populares de urbanização; urbanização de favelas de forma integral (com regularização, melhorias habitacionais e urbanas, provisão habitacional, preservação ambiental e trabalho social junto às famílias); ações para redução de risco; projetos habitacionais em autogestão, com participação social; ações para provisão de moradia para população em situação de rua, entre outras. São inúmeras as iniciativas que vêm sendo produzidas em conjunto aos territórios populares e dão luz aos desafios que precisam ser incorporados à formulação de políticas de Estado.
Os versos de Matumbi ainda fazem sentido nos dias de hoje. Não é por acaso que os territórios periféricos também sejam espaços majoritariamente de população negra, como apontou o Censo 2022 do IBGE: 73% dos moradores e moradoras de favelas se autodeclararam pretos e pardos. A produção do espaço das cidades não é neutra, emas permeada de questões de raça, gênero e classe.
Não há uma fórmula pronta de solução total, mas é preciso concentrar esforços para a diminuição de vulnerabilidades urbanas e habitacionais, bem como enfatizar a potência do que já está sendo feito em diversos territórios populares Brasil afora, com a participação de profissionais engajados socialmente e de movimentos que estão há décadas envolvidos nas diversas frentes de luta, para que o direito à moradia, à cidade e ao território deixe de ser promessa e se torne realidade concreta — e para que seja possível viver com dignidade.