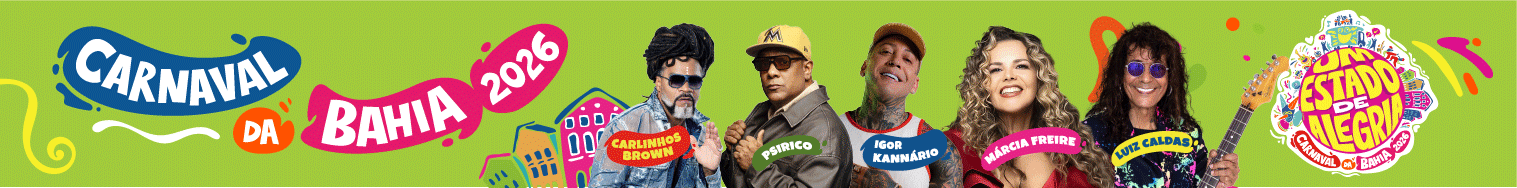Quando entra na mata para colher o coco babaçu, acontece, às vezes, de Isabel Cristina Alves de Souza encontrar uma palmeira derrubada. “Até para a criação do gado a palmeira contribui, porque ela dá sombra”, explica Isabel, que anda pelas matas desde criança. “Mas eles acham que perde muito o espaço de pastagem onde a palmeira tá. E isso não acontece”, lamenta.
Moradora da comunidade tradicional do Ludovico, no município de Lago do Junco, no Maranhão, ela observa o avanço dos pastos contra os babaçuais, matas formadas pelas palmeiras de babaçu.
Isabel cresceu naquela área, mas não tem o título da terra, documento que garante o direito e a segurança para continuar vivendo e trabalhando nos arredores da sua comunidade. Como ela, milhares de moradores de territórios tradicionais do Brasil convivem com ameaças de grileiros, pecuaristas, sojicultores, madeireiros e empresas que aproveitam dessa lacuna jurídica para avançar sobre os territórios de uso comum.
A boa notícia é que está em construção uma proposta de marco legal para os Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, um conjunto de normas que possibilitará uma série de garantias de direitos, como a demarcação de terras e o reconhecimento dos saberes das quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores artesanais, geraizeiros, catingueiros e outros tantos povos cujo modo de vida se desenvolve em harmonia com a preservação ambiental.
“Tem que demarcar os territórios, para que os que estão preservados continuem preservados e, naqueles que não estão, aconteça um processo de reconversão dos biomas”, aponta Samuel Leite Caetano, geraizeiro e presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), órgão que conduz, junto com representantes das comunidades, os debates sobre os termos da proposta.

No caso das quebradeiras de coco babaçu, por exemplo, o marco legal deve resguardar dois direitos: a demarcação do território e o respeito às práticas tradicionais dessa população.
“O respeito às práticas significa garantia tanto das palmeiras em pé quanto do acesso aos babaçuais, mesmo que estejam em outras propriedades ou áreas públicas”, explica Pedro Martins, educador popular na FASE Amazônia, organização com mais de 60 anos de dedicação à justiça ambiental e outros temas no campo das garantias de direitos.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a proposta do decreto que irá estabelecer o marco legal deve ser apresentada até o fim do ano. “A previsão é que a proposta consolidada seja apresentada até o final de 2025, após ampla consulta junto aos segmentos representados no CNPCT”, garante a pasta.
Em nota enviada ao Brasil de Fato, o MDA informa que os debates — realizados na forma de seminários regionais e nacionais — visam construir coletivamente uma proposta de marco legal para o reconhecimento e a regularização fundiária dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Além do CNPCT, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA) participa dos debates. Se aprovado, o marco legal será um avanço na preservação ambiental.
O tema deve ganhar espaço na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em novembro, em Belém, no Pará.
“A gente localiza esse decreto completamente dentro da agenda climática e das políticas do clima que vêm sendo tão discutidas neste ano na COP30”, avalia Renata Cordeiro, assessora jurídica do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). A expectativa é que o decreto seja apresentado no evento, onde serão debatidas propostas de preservação ambiental para garantir o futuro do planeta.
“Esse marco legal pode representar um freio à destruição daqueles espaços que ainda estão preservados no Cerrado, na própria Amazônia, na Caatinga, no Pantanal, nos Pampas, onde tem floresta, onde tem nascentes de água preservadas, onde tem biodiversidade, porque ali tem uma comunidade tradicional”, avalia Cordeiro.
‘Nós é que pertencemos à floresta’
“Sem a floresta, nós não sabemos sobreviver”, afirma o agricultor e ilhéu Misael Jefferson Nobre, morador do município de Querência do Norte, no Paraná.
Os ilhéus, nome dado aos habitantes das ilhas do Rio Paraná, no Sul do Brasil, colhem o ginseng brasileiro, também conhecido como “para tudo”, planta medicinal, cuja produção é quase toda destinada à exportação. “É uma espécie nativa aqui das várzeas e das ilhas do rio Paraná. Só nasce aqui”, explica Nobre. Em 20 hectares de plantação, as comunidades produzem cerca de 300 toneladas da planta medicinal por ano — 95% destinada ao mercado externo.
“Hoje estamos com um projeto junto ao órgão ambiental para que a comunidade dos ilhéus possa extrair o ginseng de forma extrativista. Você arranca uma raiz e replanta ali quatro, cinco talos, então você vai perpetuar essa espécie para sempre, nunca vai acabar”, explica o agricultor.
Distante quase 3 mil quilômetros dos babaçuais do Maranhão, essas comunidades se assemelham às das quebradeiras de coco no trato cuidadoso com a mata e a biodiversidade. “Eu sempre falo: a mata não é nossa, nós é que pertencemos à floresta”, afirma Misael.

Assemelham-se, também, na insegurança que ronda os territórios. Até a década de 1970, os ilhéus eram milhares, espalhados pelas ilhas fluviais paranaenses. Atualmente, são centenas, porque muitos foram expulsos das áreas onde viviam. Outros, viram suas terras desaparecerem sob as águas com a construção da barragem da hidrelétrica de Itaipu.
“Primeiro veio Itaipu e, depois, os parques”, conta Nobre, sobre as ameaças impostas à comunidade. “Em 1982, quando houve o enchimento do lago de Itaipu, muitas ilhas deixaram de existir. Ficou tudo submersa”, diz.
Na década de 1990, outras ilhas passaram a integrar a área de duas Unidades de Conservação (UCs) — o Parque Nacional de Ilha Grande e a Área de Proteção Ambiental (APA) Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná — ambas sobrepostas aos territórios ocupados por essas comunidades tradicionais. Embora garantam a preservação das matas, as UCs foram criadas sem a consulta aos povos que já habitavam aquelas áreas — e cujos modos de vida, segundo Misael, são ambientalmente saudáveis.
“Onde tem comunidade tradicional, é onde tá as preservações. E, onde tem mata preservada é onde tem comunidade tradicional”, ressalta o agricultor.
Ele estima que, antes da construção do Lago de Itaipu, a população de Ilhéus somava em torno de 12 mil pessoas. Atualmente, a Associação dos Ilhéus Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande conta com 548 autodeclarações de pessoas que se reconhecem como pertencentes a essas comunidades.
Para elas, o marco legal será uma oportunidade de ter acesso à políticas públicas. “Nós não acessamos nenhum financiamento para investimento, para melhoria dentro do nosso território. Nós não temos nada que nos dê documento que chegue lá num banco para poder acessar um financiamento. Nós não temos assistência técnica adequada para uma produção orgânica sustentável”, lamenta o agricultor.
“Com a regulação fundiária, nós vamos, além de ter a visibilidade, ter a oportunidade de acessar políticas públicas. Todas essas políticas públicas hoje nós não acessamos”, diz.
Pedro Martins entende o marco legal como um caminho de fortalecimento dessas comunidades, garantindo a continuidade do trabalho de preservação. “As práticas tradicionais são muito associadas à conservação, à forma de lidar com a natureza. Mas elas precisam de subsídios, precisam de apoio, precisam de fomento”, diz.
‘Único caminho para adiar o fim do mundo’
Isabel Alves de Souza aprendeu cedo o manejo do coco babaçu. “Com sete anos, nossa mãe às vezes saía, deixava a bandinha de coco e costumavam dizer: ‘Fica olhando lá em meu lugar enquanto eu vou fazer o almoço ou eu vou dar banho em outra criança’. Aí a gente aprendia”, lembra.
As “bandinhas” são as partes abertas do coco. No começo, a mãe deixava o fruto já partido em duas ou quatro bandas. “Quando a gente já tinha um pouco de prática, lá pelos dez anos, a gente podia quebrar o coco inteiro”.

A quebradeira de coco sabe que, mesmo quando envelhece e deixa de dar frutos, a palmeira do coco babaçu continua tendo sua importância. “Por exemplo, os papagaios utilizam para fazer seus ninhos”, conta Isabel. Essa sabedoria, no entanto, é ignorada por muitos.
Em Lago do Junco, a floresta de Cerrado desparece ano a ano, enquanto os pastos aumentam. Atualmente, mais de 60% da área do município é tomada por pastagens. Em um Brasil marcado pela concentração de terras e avanço do desmatamento nas regiões de fronteiras agrícolas, como acontece no Maranhão, o marco legal é um instrumento de garantia de futuro para as matas e para todo tipo de vida.
“Esse é o único caminho para adiar o fim do mundo”, alerta Samuel, que acumula saberes aprendidos numa comunidade tradicional. “A gente quer continuar no planeta por muito tempo. Eu não quero que o mundo acabe”, diz.
Onde estão as comunidades
Se existisse um mapa do Brasil demarcando todas as comunidades tradicionais, ele teria centenas, talvez milhares de fronteiras. Esse mapa ainda não é possível, justamente porque muitas dessas comunidades não são oficialmente identificadas.

Com resposta a esse problema, o Ministério Público Federal (MPF) lançou a Plataforma de Territórios Tradicionais, uma ferramenta digital construída pelos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) para fortalecer sua luta por direitos. Na plataforma online, as comunidades podem se cadastrar e marcar, no mapa, sua localização.
Até o momento, 382 comunidades já se registraram na Plataforma de Territórios Tradicionais. Vinte dessas preferem não tornar pública sua localização por questões de segurança.
Com o marco legal e uma futura demarcação das terras de uso dos povos e comunidades tradicionais, será possível compreender o Brasil como uma colcha de retalhos composta por 29 segmentos, como quilombolas, ilhéus, raizeiros e quebradeiras de coco; divididos em cerca de 400 comunidades, de acordo com levantamento do Ministério Público Federal. O número, no entanto, pode ser maior, já que outros grupos podem não ter se cadastrado na plataforma do MPF, que é auto declaratória.